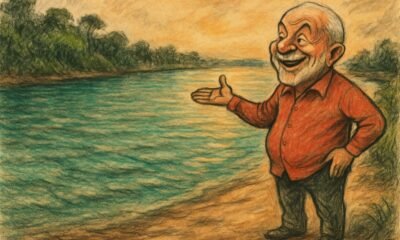Foto: Alê Belmont
Foi na sala de aula, naquele espaço tão nosso, mas ainda tão disputado, que olhares suspensos e indignados se voltaram para o comentário de uma colega.
O professor explicava como a educação é atravessada por questões de raça, classe e território — e foi nesse exato ponto que a colega interrompeu para afirmar que as cotas “não eram justas”. E, como se não bastasse, ainda tentou se justificar, dizendo que “todos deveriam entrar apenas pelo mérito”, ignorando justamente o que estava sendo discutido: que o tal mérito nunca foi distribuído de forma igual neste país.
O silêncio que se fez não era silêncio. Era um grito comprimido na garganta de cada estudante preto, indígena e quilombola ali presente. Um silêncio pesado como água barrenta depois de cheia. Um silêncio que logo se rompeu e gerou debates acalorados porque a universidade, mesmo pública, ainda insiste em carregar no seu interior as velhas estruturas que fingimos, às vezes, que não estão ali.
Essa cena, tão cotidiana quanto absurda, revela por que o Dia da Consciência Negra, conquistado a duras penas e agora celebrado como feriado em todo o Brasil, é muito mais que uma data no calendário. É um lembrete incômodo de que a luta não terminou. É memória, é disputa, é denúncia. E, sobretudo, é insistência.
A conquista do feriado: vitória simbólica, batalha real
A oficialização do dia 20 de novembro como feriado nacional foi celebrada como avanço histórico. Mas conquista nenhuma nasce sem contexto. Foram décadas de movimentos negros, quilombolas, organizações comunitárias e intelectuais que, contra a narrativa hegemônica do “13 de maio”, afirmaram outro marco: a morte de Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência negra no Brasil. Uma data que não romantiza grilhões, que não agradece correntes, que não enfeita a crueldade com laços de princesa. Uma data que resgata orgulho, coragem e a verdade que não coube nos livros escolares por tanto tempo.
As cotas não são o problema, o incômodo é a igualdade
Quando uma colega universitária deslegitima as cotas diante de uma turma cheia de quilombolas, indígenas e pessoas negras — muitas delas ali não por cotas, mas apesar de não terem tido cotas suficientes — revela-se a verdadeira questão: não é sobre o acesso, é sobre quem passa a ocupar espaços antes reservados a poucos.
É sempre curioso: quem critica as cotas nunca critica o privilégio histórico branco, nem o nepotismo, nem o cursinho de mil reais, nem o sobrenome que abre portas. O incômodo aparece somente quando o filho da diarista, a jovem quilombola, a estudante indígena começa a ocupar a mesma carteira, ler o mesmo texto, disputar o mesmo diploma.
A fala da colega é a prova viva de que o racismo, no Brasil, é educado, cordial e cheio de argumentos “técnicos” que só servem para esconder o medo de perder privilégios. Porque, no fundo, o incômodo não é com as cotas — é com a presença. É com o fato de que pessoas negras agora ocupam lugares que, durante séculos, lhes foram negados. É com a quebra da lógica que garante que a universidade seja espelho apenas de uma parte do Brasil.
A cena vivida em sala de aula é reflexo desse país que celebra a consciência negra ao mesmo tempo em que tenta calar as vozes negras quando elas falam de si mesmas. Um país onde estudantes quilombolas ainda se perguntam se são bem-vindos, onde jovens indígenas precisam explicar sua própria existência, onde pessoas negras precisam justificar que seus passos, sim, também pertencem aos corredores da universidade.
Consciência Negra não é conforto, é confronto
O feriado do dia 20 de novembro não é para descansar. É para incomodar. É para lembrar que ainda há quem acredite que racismo é “vitimismo”, que a universidade é neutra, que mérito é algo flutuando no ar, e não uma construção social profundamente desigual.
O dia 20 de novembro nos lembra que consciência negra não é um enfeite de calendário, é uma tarefa. E uma tarefa coletiva. É preciso reconhecer o racismo estrutural que organiza nossa sociedade. É preciso defender as políticas de ação afirmativa como instrumento de correção histórica. É preciso nomear injustiças quando elas acontecem — inclusive dentro da universidade, especialmente dentro dela.
Consciência negra é entender que ainda há quem questione nossa presença, nossa inteligência, nossa legitimidade. É entrar na sala de aula sabendo que o debate não é apenas teórico, é existencial. É perceber que cada fala enviesada, cada “opinião” travestida de neutralidade, cada comentário como aquele é um lembrete cruel de que o racismo continua sendo a espinha dorsal das relações sociais deste país.
Por isso, consciência negra não é só uma data, é uma fronteira permanente entre o que já conquistamos e o que ainda precisamos conquistar. É um convite à coragem. É um chamado à responsabilidade coletiva. É o lembrete de que, mesmo dentro de instituições que se pretendem críticas, ainda somos obrigados a reivindicar o básico: dignidade, respeito e direito a existir plenamente.
Mas seguimos. Seguimos porque cada estudante negro que pisa em uma universidade pública é um ato político. Seguimos porque cada quilombola que se forma rompe um ciclo de apagamento.
Quando a presença é a resposta
Aquele episódio mostrou que cada estudante negro presente naquele dia de aula é, ele próprio, uma vitória contra séculos de exclusão. E a fala da colega não apaga isso. Mas revela por que ainda precisamos lutar todos os dias. Porque consciência negra não é um dia, é um processo. Um processo longo, incômodo, cheio de camadas que o Brasil insiste em varrer para debaixo do tapete.
No fim da aula, ninguém discutiu com ela, e talvez esse tenha sido o gesto mais barulhento da turma. O silêncio, dessa vez, não era omissão: era resistência. Era a consciência coletiva de que certas falas se desmontam por si próprias, porque o racismo, quando exposto, fede. Fede à ignorância, fede à mentira histórica, fede ao medo disfarçado de argumento.
E ali, naquele silêncio firme, havia também um pacto não declarado: o de que não iríamos gastar nossa energia tentando convencer quem se recusa a enxergar. Era como se todos soubessem que a discussão que realmente importa não acontece na garganta, acontece na estrutura. E essa, sim, nós estamos mudando com nossa presença, com nossa permanência, com nossas narrativas que agora ocupam a sala de aula.
Assim, saímos da sala carregando a mesma certeza que nos leva a celebrar o 20 de novembro: nós estamos aqui. E não sairemos. Porque quem vive o peso do racismo não precisa gritar para ser ouvido, basta existir. E existir, naquele espaço, já era resposta suficiente.
Leia mais: