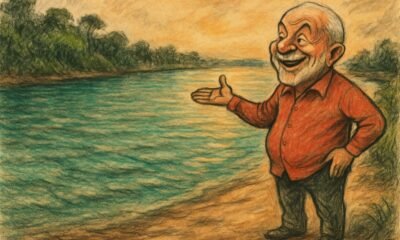Foto: MPAM/DIVULGAÇÃO
Eu não planejava escrever este artigo. Mas fui atravessada por uma fala. Minha indignação começou após uma conversa com um colega — amigo de longa data, atuante na segurança pública, com sólida formação em Direito Penal. Discutíamos o meu artigo publicado recentemente sobre o caso da mulher indígena que denunciou ter sido estuprada por policiais militares no Amazonas. Foi quando ele soltou, com a tranquilidade de quem acredita estar amparado pela legalidade: “Não foi bem assim, não mana… Não é mais indígena a muitos anos, isso é fato também rs , estão bem culturadas… Também respeito seu ponto de vista , mais andar com facão e fazer roubos é sim ter deixado seus traços culturais de lado e viver uma vida comum , tem uma quantidade grande aqui assim…” Nesse último ponto, falava de uma forma genérica.
No entanto, essa fala me atravessou como um estalo. Mesmo depois de se justificar e me dizer que se expressou mal. Essa conversa ficou reverberando na minha cabeça. Porque por trás dela há uma lógica perversa, antiga e sempre renovada: a de que para ter direito à identidade indígena — e, portanto, às garantias que dela decorrem — é preciso estar encaixado numa caricatura colonial de pureza cultural. Como se identidade fosse um enfeite, um figurino, algo que se perde ao primeiro desvio. E mais: como se o envolvimento com o crime — ainda que condenado e passível de punição dentro da legalidade — autorizasse, de antemão, o estupro, o abuso, a tortura. Mas mesmo que ela tivesse cometido crimes, nada, absolutamente nada, justifica o que foi feito com seu corpo sob custódia do Estado.
Falas assim, são ecos do que mais nos adoece: o costume perverso de justificar o injustificável. Quando o Estado estupra nem um crime justifica a barbárie.
A culpa nunca é da vítima
Não importa o que essa mulher tenha feito. Não me cabe julgá-la e muito menos cabe ao Estado, por meio de um pelotão armado de ódio, assumir esse papel com violência. Nenhum crime, por mais grave que seja, autoriza que agentes públicos violem seus direitos fundamentais. Nenhuma acusação justifica o estupro. O Estado não pode ser criminoso em nome da lei.
E sem essa de que “não foi bem assim.” Estupro sob custódia é crime hediondo. É tortura. É covardia. É barbárie. A mulher indígena em questão já estava em custódia. Presa. Desarmada. Sem liberdade. A partir daí, tudo o que acontece com ela é responsabilidade do Estado. E o Estado falhou. E falhou feio.
A tentativa de apagar sua identidade
Mas, como se não bastasse a violência sexual, agora tentam também estuprar sua identidade. Dizer que ela “não é mais indígena”, como se a identidade étnica fosse algo que se perde como um RG molhado. Alegar que ela já “está aculturada” porque cometia crimes — como se crime anulasse ancestralidade. Para mim essas expressões são de um racismo institucionalizado, de uma tentativa perversa de negar direitos a partir da negação da identidade.
É curioso e perigoso como muitos brasileiros se sentem à vontade para definir quem é ou não indígena. Como se a identidade originária fosse uma roupa que se tira. Como se fosse possível apagar séculos de pertencimento com uma frase.
Não existe um “índice de pureza indígena”. Não é a roupa, o uso de celular ou o lugar onde mora que define quem é indígena. Os art. 231 e 232 reconheceram a capacidade civil de indígenas sem nenhum condicionamento, fortalecendo a conquista de autodeterminação. E essa concepção está respaldada também na Convenção 169 da OIT, ratificada pelo Brasil, que trata do direito à autodeterminação dos povos indígenas.
A Lei nº 6.001/1973, em seu Art. 56, Parágrafo único, também garantem tratamento jurídico específico a indígenas. E isso não é privilégio — é correção histórica, é justiça restaurativa, é respeito à autodeterminação dos povos. É reconhecer que há contextos diferentes e que a equidade exige que se trate desigualmente os desiguais.
Como afirma Ailton Krenak: “Se o colonialismo nos causou um dano quase irreparável foi o de afirmar que somos todos iguais.” Essa afirmação denuncia a falsa ideia de igualdade universal imposta pelo colonialismo como instrumento de dominação. Ao dizer que todos são iguais, apaga-se a diversidade dos modos de vida, de existência e de organização social dos povos originários e comunidades tradicionais. Essa suposta igualdade serviu como pretexto para negar direitos específicos, suprimir culturas e impor um modelo único de humanidade, baseado na lógica ocidental, cristã e europeia.
Na prática, essa ideia produziu o efeito contrário: aprofundou desigualdades históricas ao negar as singularidades e as reparações necessárias. Krenak nos alerta que não se trata de buscar uma igualdade homogeneizadora, mas sim de reconhecer as diferenças como constitutivas do tecido social e respeitá-las como tal.
A negação da identidade indígena quando ela não se encaixa no estereótipo da floresta, da pintura corporal e do silêncio é uma forma de controle. Se o indígena vive na cidade, estuda, se defende — “já não é mais indígena”.
É possível viver na cidade, usar transporte público, usar internet e ainda assim manter vínculos profundos com a cosmovisão, o território e a ancestralidade do seu povo. O indígena não precisa estar pintado com urucum, descalço na floresta, para ser respeitado como tal. Isso é uma caricatura eurocentrada que só reforça o racismo estrutural. Essa ideia de que um indígena deixa de ser indígena quando se defende, quando se expressa, quando ocupa espaços urbanos, é parte da retórica do apagamento.
Dados da Funai e do IBGE mostram que os povos indígenas seguem entre os mais vulnerabilizados do país — seja em acesso à educação, saúde, moradia ou justiça. Políticas públicas como cotas, saúde diferenciada e regime penal específico não são privilégios, mas formas de reparação histórica e de garantia mínima de equidade.
Muitos ainda repetem que “todos são iguais perante a lei”. Mas ser tratado igualmente em condições desiguais é aprofundar a injustiça. Na prática, o que muitos querem é que indígenas só sejam reconhecidos como tais quando estão em condição de submissão, pobreza ou “exotismo”. Mas quando gritam, quando resistem, quando denunciam, viram inimigos da ordem.
Se alguém cometeu um crime, que responda por ele. Mas que o faça dentro da legalidade, respeitando as garantias constitucionais e considerando suas especificidades culturais — como prevê a Lei nº 6.001/1973, ainda em vigor.
O que não podemos aceitar é o uso da violência institucional, a tortura sexual e o abuso como forma de “justiça”. A indígena estuprada sob custódia não perdeu sua identidade — perdeu, temporariamente, a proteção do Estado. E nós não podemos aceitar isso calados.
O que se quer é o silêncio dos povos. Pois eu sou uma das que escreve para romper esse silêncio. Se a indígena estuprada não é mais considerada indígena por alguns, o problema não está nela — está na mentalidade colonial que ainda nos cerca. Uma mentalidade que nega o direito ao reconhecimento, à proteção legal, à diferença e à dignidade.
Portanto, não podemos aceitar que a resposta institucional a esse crime seja mais uma camada de desumanização. Não é privilégio ser respeitado — é um direito. Privilégio, na verdade, é poder ignorar essa dor, esse abuso, esse silenciamento. E quem ignora, escolhe o lado da violência. Que o nosso grito, hoje, seja um basta. Basta de corpos violados sem justiça. Basta de normalizar o inaceitável.
Leia mais:
- Agrotóxicos, normalização e resistência: por que o PRONARA incomoda tanto?
- Do plenário ao gabinete: quem cala o povo?
- Quando ser mãe é ato político: vozes que desafiam o silêncio