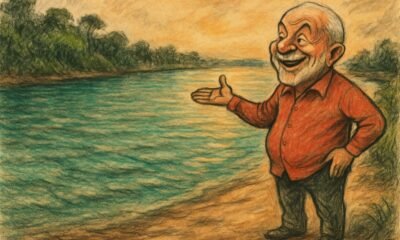Foto criada com auxílio de Inteligência Artificial
Foi no chão do Instituto Federal do Pará/ Campus Óbidos, entre as primeiras aulas práticas de solo, que ouvi uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça: “Agro não é progresso. É submissão.” Foi com essa frase, dita pelo professor Isaías Pereira, que fui apresentada a uma perspectiva crítica sobre a agricultura brasileira. Ainda técnica em formação, me vi provocada a olhar para a terra não apenas como lugar de produção, mas como campo de disputa entre modelos, entre a lógica da vida e a lógica do lucro. Dr. Isaías não ensinava só a plantar: ele ensinava a questionar.
Durante o curso, ele nos propôs criar um banco de sementes crioulas, um gesto aparentemente simples, mas carregado de sentido político. Guardar sementes, dizia ele, é guardar autonomia. É não se submeter ao modelo que transforma tudo em mercadoria, inclusive a própria vida.
Esse olhar que comecei a cultivar se aprofundou quando desenvolvi meu Projeto Integrador, com base em visitas técnicas e entrevistas em comunidades rurais. Pesquisando o uso de agrotóxicos, percebi algo que me preocupa até hoje: o veneno virou normalidade. Todos os agricultores entrevistados utilizam agrotóxicos, inclusive na agricultura familiar, onde se esperaria práticas mais próximas da agroecologia. Muitos justificam pelo “efeito rápido”, pela “eficiência”. Nenhum deles utiliza Equipamento de Proteção Individual (EPI). A justificativa? É “quente demais”, “desconfortável” ou “não faz diferença”.
Essa realidade mostra que o problema não está apenas na aplicação, mas na naturalização da contaminação como parte do processo produtivo. E mais: revela o abandono de políticas públicas estruturantes nas zonas rurais. O que se normaliza, na verdade, é a vulnerabilidade.
Enquanto isso, o Brasil segue como o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, com isenções fiscais bilionárias às indústrias químicas, muitas das quais vendem aqui substâncias já banidas em seus países de origem. Não se trata de ignorância dos agricultores. Trata-se de um sistema que não oferece alternativa viável, não investe em extensão rural agroecológica, nem facilita o acesso a crédito para transição ecológica.
Por que normalizamos o veneno no prato?
A naturalização do uso de agrotóxicos no Brasil é resultado de décadas de políticas agrícolas baseadas no modelo da Revolução Verde, que associou produtividade ao uso intensivo de insumos químicos. Esse modelo foi amplamente difundido como “moderno” e “eficiente”, tornando-se hegemônico nas universidades, nas políticas públicas e nos meios de comunicação.
Além disso, o uso do termo “defensivo agrícola” nos rótulos e nas legislações suaviza o impacto do que realmente se trata: substâncias tóxicas, muitas delas classificadas como cancerígenas ou com potencial de causar distúrbios hormonais.
A naturalização também é reforçada pela falta de informação acessível à população. A rotulagem de produtos que utilizam agrotóxicos não é clara, e os dados sobre contaminação raramente chegam ao consumidor final. Isso gera um distanciamento entre quem consome e o modo como o alimento é produzido.
A lei brasileira, Lei nº 14.785/2023, determina que o uso de agrotóxicos seja controlado, responsável e fiscalizado. Essa lei estabelece que: O uso de agrotóxicos deve obedecer a critérios técnicos e agronômicos; É obrigatória a prescrição por profissional habilitado (engenheiro agrônomo); O Estado é responsável pela fiscalização, controle e registro desses produtos; A comercialização, aplicação e descarte devem seguir normas rígidas para proteger a saúde humana e o meio ambiente.
O Decreto nº 4.074/2002 regulamenta a lei e detalha como essas ações devem ser executadas. Mas a efetividade dessa legislação e de tantas outras em nosso país, depende de algo que falta muito no Brasil: fiscalização ativa, educação técnica, políticas de apoio à transição agroecológica e enfrentamento aos interesses corporativos que lucram com o uso indiscriminado de venenos.
Nesse contexto que acompanhei com entusiasmo o relançamento do PRONARA (Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos), que representa, para mim, uma política pública construída com base no que vivemos no dia a dia.
Por que o PRONARA incomoda tanto?
A assinatura do Decreto nº 12.538, de 30 de junho de 2025, que institui oficialmente o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos (PRONARA), representa um marco institucional e político na luta por um modelo agrícola mais justo e sustentável. Mais do que um ato administrativo, o decreto simboliza o reconhecimento oficial, por parte do Estado brasileiro, de que a exposição da população e do meio ambiente aos agrotóxicos é um problema de saúde pública, ambiental e de justiça social. Sua elaboração resultou de uma articulação interministerial e intersetorial inédita, envolvendo os ministérios da Saúde, Meio Ambiente, Desenvolvimento Agrário, Agricultura e Educação, além da participação ativa da sociedade civil. Sua proposta dialoga com os princípios da segurança alimentar e da saúde coletiva, ao mesmo tempo que confronta o discurso dominante de que agrotóxicos são indispensáveis para alimentar o mundo.
O decreto coloca o Brasil, ao menos no papel, na trilha de países que reconhecem os limites do modelo agroquímico dominante. No entanto, como alertam instituições como a Fiocruz e a Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida entre outros, a efetivação dessa política dependerá do enfrentamento direto às forças que historicamente impediram sua aplicação — e da mobilização permanente dos movimentos sociais para garantir que esse compromisso não se perca no tempo.
Entre suas vantagens, destaca-se a articulação entre diferentes setores do Estado, o foco na formação técnica agroecológica, o estímulo à produção orgânica e o controle mais rigoroso das substâncias nocivas à saúde. Se implementado com seriedade, o PRONARA pode reverter o atual cenário de contaminação e invisibilidade.
Mas sua efetivação exige enfrentamentos profundos. O programa precisará de investimento público contínuo, de técnicos capacitados e presentes nos territórios, e de vontade política para romper com o lobby do agronegócio e da indústria química, que têm fortes aliados no Congresso Nacional e nos grandes meios de comunicação. Além disso, é preciso respeitar os saberes populares e as realidades locais — como as das comunidades que entrevistei, onde o uso do veneno não é escolha ideológica, mas resposta à falta de alternativa prática.
Logo após o decreto de lançamento do PRONARA, entidades da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos alertaram que, no mesmo dia, o governo concedeu 115 novos registros de agrotóxicos. Além disso, o setor químico agrícola recebeu mais de R$?25,7?bi em isenções fiscais até agosto de 2024 .
O agronegócio e a CropLife Brasil criticaram a inclusão do PRONARA, reclamando falta de diálogo e sugerem que os técnicos e produtores foram excluídos do processo. Essas queixas expõem o desconforto de quem lucrava promovendo o “uso responsável” e sem contrapartidas, enquanto agora é questionado o próprio uso.
Para movimentos sociais, o PRONARA não é apenas um programa: é uma declaração de que o modelo agroquímico é insustentável — ambiental e socialmente. Há críticas de que os agrotóxicos são usados como “arma de guerra” contra populações vulneráveis, enquanto o programa enfrenta sabotagens dentro do MAPA. Ou seja: enquanto o programa propõe restrições, o Estado segue subsidiando o “Pacote do Veneno”. Esse impasse revela o choque entre um modelo produtivista e uma proposta alinhada à saúde, à agroecologia e ao clima.
Esse enfrentamento revela que o PRONARA coloca em xeque a lógica concentrada de mercado e poder.
O que está em jogo é o projeto de país
A discussão sobre o PRONARA revela algo maior: que tipo de agricultura queremos para o Brasil? Uma que envenena a terra e os corpos em nome da exportação de commodities? Ou uma que fortaleça a agricultura familiar, os circuitos curtos de comercialização e a soberania alimentar?
Não é uma escolha técnica — é uma escolha política. E como técnica em agroecologia formada em chão amazônico, sigo acreditando que é possível transformar essa realidade. Mas isso não será feito apenas com decretos. Será preciso escuta, diálogo com os territórios, apoio às experiências locais e combate à desigualdade estrutural que impera no campo.
Para Paulo Petersen, coordenador executivo da AS-PTA, integrante da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Cnapo), membro do núcleo da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) e enviado especial da ONU à COP30 para Agricultura Familiar, o lançamento do PRONARA representa uma vitória simbólica e política. Ele destaca que, embora tardio, o decreto é extremamente relevante, pois representa o reconhecimento oficial, por parte do Estado brasileiro, de que é urgente adotar medidas concretas para reduzir o uso de agrotóxicos no país.
A verdade é que o PRONARA não é apenas um programa da agricultura. Ele é uma pauta da sociedade. Afinal, o que está em jogo não é só o que comemos, mas como estamos permitindo que se produza no Brasil — e a que custo. Discutir agrotóxicos é discutir saúde, justiça, soberania alimentar e futuro.
Organizações da sociedade civil mobilizaram cartas, protestos e plenárias em todo o país para pressionar o Estado brasileiro a agir. Depois de mais de uma década de luta, o PRONARA representa uma conquista histórica. Não nasceu de cima para baixo, mas das bases: dos territórios, dos movimentos, das vozes que nunca se calaram diante do veneno.
O PRONARA é mais que um programa. É uma semente. Mas semente boa só germina em solo fértil. E, nesse caso, o solo fértil é feito de compromisso com a vida, com os povos do campo, das florestas e das águas e não com o lucro. Portanto, fazer essa semente brotar depende de todas e todos nós.
Leia mais: